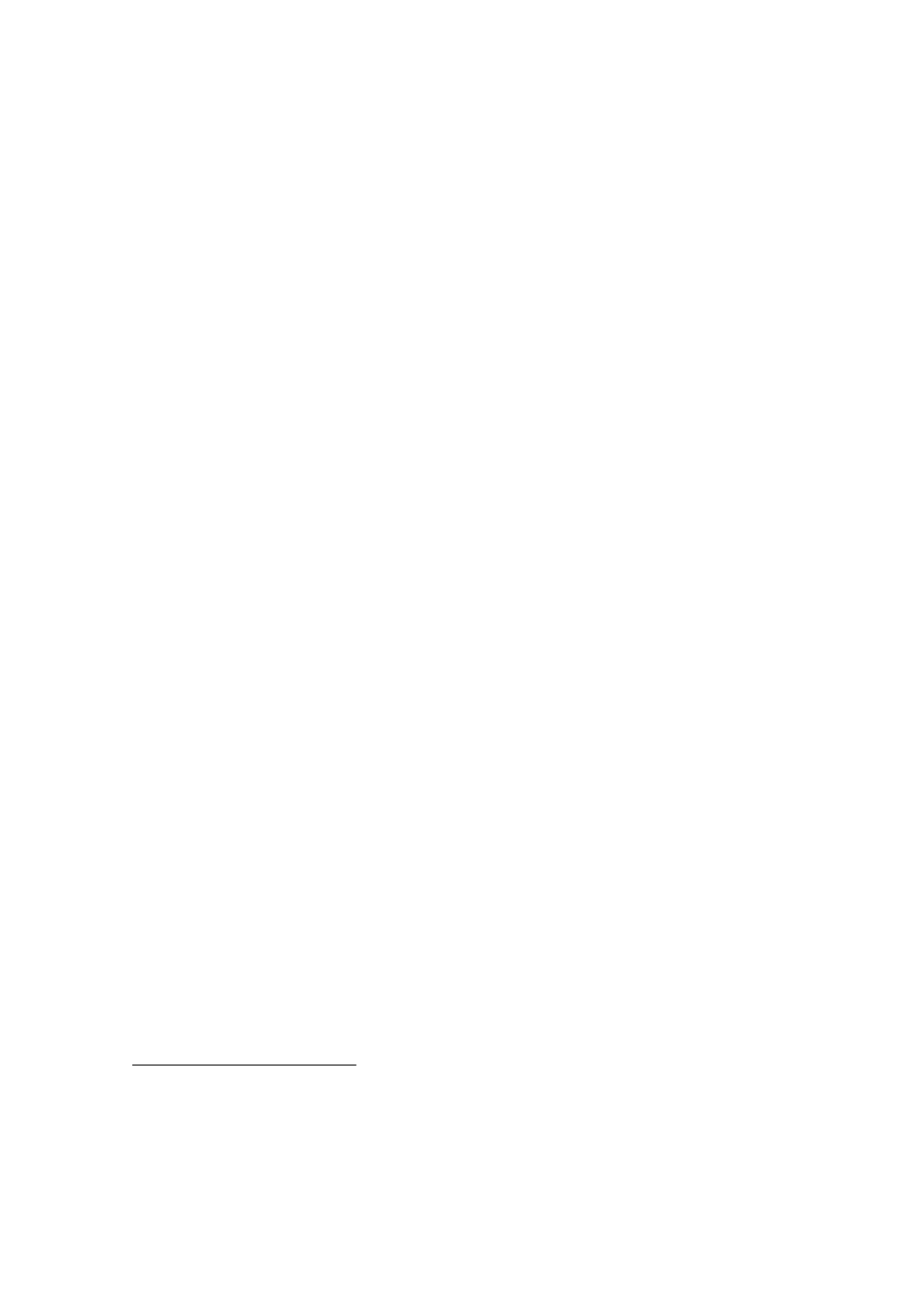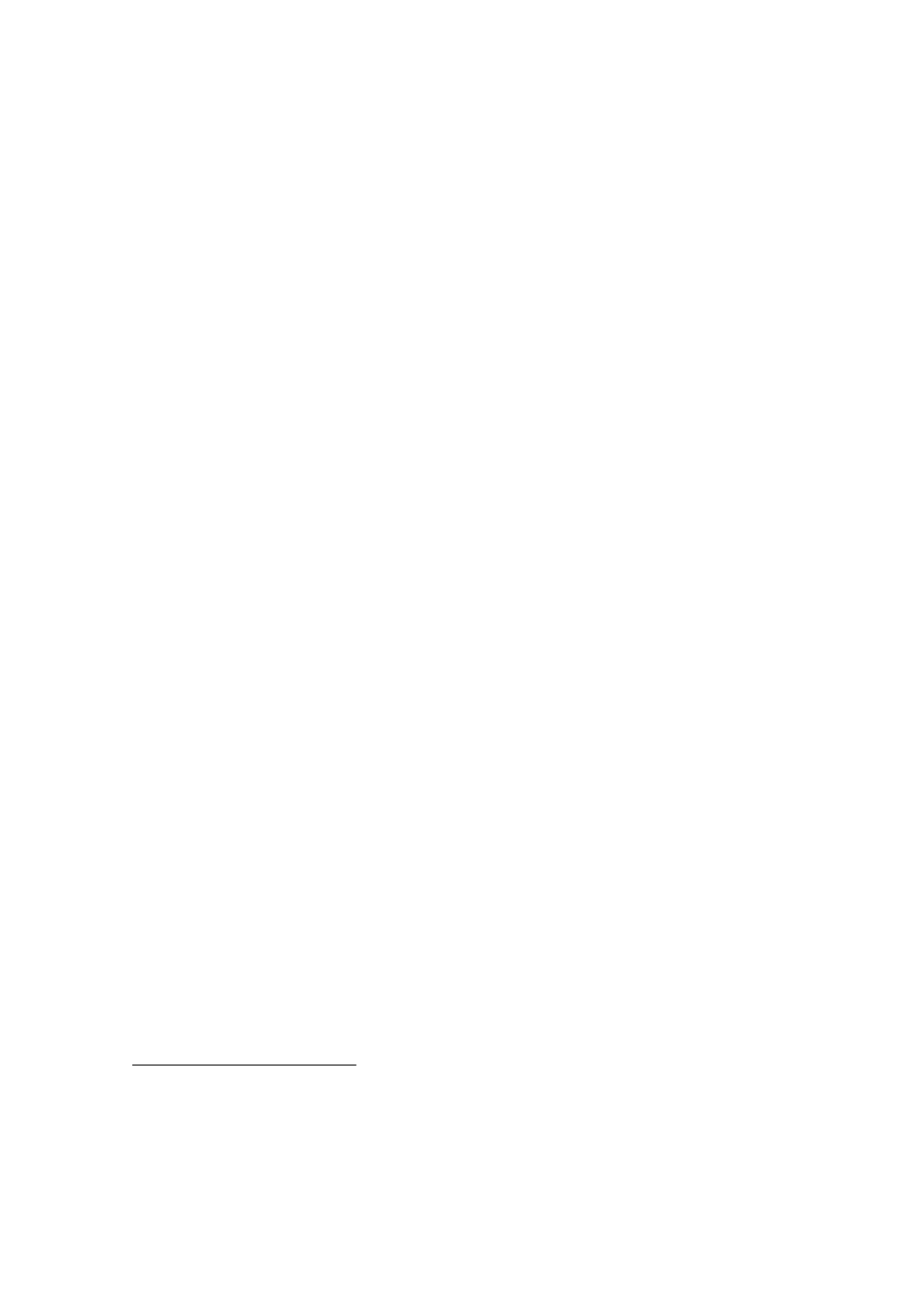
52
O cinema como veículo ideológico e o trabalho como um valor
Na década de 1930, o debate sobre a finalidade do cinema voltava-se para o seu uso
como ferramenta complementar à educação e à afirmação de valores morais, como a
importância da família, da pátria e do trabalho (ROSA, 2006). Na década seguinte, no
entanto, estas produções também teriam a finalidade de difundir valores e comportamentos,
colaborando na construção de uma identidade nacional. Deste modo,
legitimariam
as ações
e ideias do Estado Novo
4
. Entre os materiais produzidos com este fim estão cartazes,
panfletos informativos, jornais e revistas, além de outros veículos de comunicação.
Programas de rádio, cinema, música, artes plásticas e teatro foram, também, veículos
empregados, levando a produção cultural do período a ser considerada um elemento político
(CAPELATO, 2003, p. 128-129). A quem se opunha a apoiar e divulgar as ações do governo
e sua ideologia restava a censura e, em muitos casos, afastamentos e prisões (CAPELATO,
2003 p, 118).
Em 1932, a produção de filmes no Brasil foi regulamentada por meio do decreto
nº 21.240, sancionado por Getúlio Vargas, durante o governo provisório. Nele consta, além
da censura, a obrigatoriedade na exibição de filmes nacionais. Deste modo, criaram-se
mecanismos de controle sobre a produção fílmica, em especial sobre o que deveria ser
filmado e de que maneira. Assim, diferenças regionais deixariam de existir para dar lugar à
imagem de uma nação forte e moderna, que alcançaria seu ideal por meio do trabalho e do
respeito ao líder.
Para legitimar essa produção e conferir-lhe o caráter educacional desejado, o
governo criou, em 1936, o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), onde foram feitos
filmes educativos cujas temáticas eram as mais diversas: biografias de “grandes
personagens” da história do Brasil, as riquezas naturais do país, filmes sobre ciências,
noções de higiene, música, entre outras produções. A variedade de temas tinha por objetivo
“educar sem enfadar” (ROSA, 2006, não paginado) e, sobretudo, estimular no espectador o
amor pela pátria, seja valorizando seus heróis e suas riquezas, seja mostrando o trabalho.
Por meio do INCE, o governo federal assumiria, então, o papel de produtor direto de
filmes para divulgar “conhecimentos acerca dos costumes e da cultura dos povos,
promovendo a compreensão das suas mentalidades e das necessidades
5
”. Em seu quadro
4
Em
O Estado Novo: o que trouxe de novo?
, Maria Helena Capelato menciona uma subdivisão no período que corresponde
ao Estado Novo. O primeiro, de 1937 a 1942, corresponde à implantação da nova constituição, a oficialização do regime, bem
como das mudanças na legislação trabalhista, até a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O segundo, de 1942
até 1945, apresenta as contradições do regime (a crise interna piorada pela guerra) e a tentativa de legitimá-lo por meio da
propagando política, no populismo e no combate à oposição. Para mais detalhes, ver: CAPELATO, Maria Helena. O Estado
Novo: o que trouxe de novo? In: DELGADO, Lucília de Almeida Neves e FERREIRA, Jorge (Orgs.)
O Brasil Republicano – v. 2
.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 107-143.
5
Vale salientar que, mesmo com os mecanismos de controle sobre a produção de filmes no período, havia produções
independentes, particulares. Diante deste cenário, havia uma série de discussões sobre quais caminhos a cinematografia
brasileira deveria seguir. Para saber mais a respeito, ver: SCHVARZMAN, S.
O livro das letras luminosas
: Humberto Mauro e o